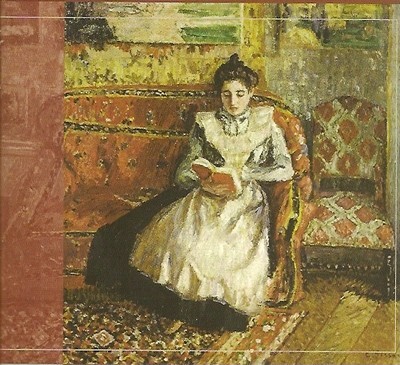Por Maicon José de Jesus Vijarva (UNILAGO, em São José do Rio Preto -SP)
Quando o sol nasce é como se mais uma vez pudéssemos ter a chance de repensar nossas falhas, reorganizar as linhas tortas que descrevem nossa história de vida, não é reescrevê-las, mas organiza-las em nosso ambiente psíquico. Todas as manhãs, quando abrimos os olhos e enxergamos à realidade, nos perguntamos como será nosso dia, nesses ensejos que a esperança assume corpo em nossa alma, procuramos a partir da esperança, ter fé que nosso dia será maravilhoso, confiamos que sejamos capazes de compreender e aceitar nossos pontos falhos – obscuros de nós mesmos –, observar nossos erros como um crescimento e não nos culparmo-nos por tê-los cometido.
Em nosso cotidiano, frequentemente nos sentiremos envolvidos pela solidão - solidão é a arte do encontro com o vazio existencial. Esse vazio traz duplo sentido. Um é o da existência, da busca de um significado metafísico; o outro é o da ausência, da perda do objeto importante. A liberdade é uma descoberta solitária e por isso muitos tentam evitá-la. A solidão é um sentimento que acende a angústia e que nos coloca perante uma dimensão em um mundo interior onde a chave é o sentido do mundo, o porquê das coisas, as perguntas que fazemos e para as quais não encontramos respostas. Para Freud a angústia é um mecanismo de defesa que se organiza a partir do conflito que o ego enfrenta ao tentar lidar com três instâncias: os desejos do id, as imposições do superego e as exigências da realidade. O sujeito necessita estar com sua estrutura psíquica bem formada, pois será necessário criar um equilíbrio, para lidar com essas três instancias.
Devemos nos permitir navegar por dimensões nunca apreciadas pela realidade, certamente é crível notar que uma forma razoável de suportar a realidade é fantasia-la algumas vezes, do mesmo modo como uma criança o faz. Conviver com a solidão não é uma coisa simples, como escolhermos se queremos ou não senti-la, impossível, por mais que negamos sua existência em nossa alma, sempre iremos senti-la – é aquele vazio que existe dentro de nós que insiste aparece e desaparece sem avisar –, a solidão, igualmente como a doença, pode ser uma passagem para amadurecimento do psíquico, para construção de uma vida psíquica saudável.
É prolixo contermos a coragem de aprender com a solidão e não somente rejeitá-la. Rejeitar nossa solidão é o mesmo que rejeitar nossos defeitos, nossas mazelas humanas. É como evitar falar em doença e ingenuamente acreditássemos que a doença deixasse de existir. Há pessoas que fazem de tudo para evitar falar sobre a solidão, sobre a doença, sobre as mazelas humanas – não é fácil falar sobre aquilo que nos leva ao desconforto. No fundo, é apenas uma tentativa de se evitar o contato com a realidade.
Passamos grande parte de nossas vidas querendo compreender os outros, desejando viver seu mundo, achamos perfeito o mundo em que vivem, contudo, não sabemos o que eles fazem para suportar e lidar com seus defeitos, falhas e seu vazio por detrás do falso eu que protege o seu verdadeiro eu.
O que é solidão? O filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) afirma em Ser e Tempo que estar só é a condição original de todo ser humano. Que cada um de nós é só no mundo. É como se o nascimento fosse uma espécie de lançamento da pessoa à sua própria sorte. Podemos nos conformar com isso ou não. Mas nos distinguimos uns dos outros pela maneira como lidamos com a solidão e com o sentimento de liberdade ou de abandono que dela decorre, dependendo do modo como interpretamos a origem de nossa existência. O homem se torna autêntico quando aceita a solidão como o preço da sua própria liberdade. E se torna inautêntico quando interpreta a solidão como abandono, como uma espécie de desconsideração de Deus ou da vida em relação a ele. Com isso abre mão de sua própria existência, tornando-se um estranho para si mesmo, colocando-se a serviço dos outros e diluindo-se no impessoal. Permanece na vida sendo um coadjuvante em sua própria história.
A verdade é que permanecemos absolutamente indolentes e apreensivos para buscarmos novas relações, torno a insistir no medo da memória, pois esta encerra o temor ou uma negativa ao novo, dizendo-nos constantemente que se nos arriscarmos novamente, todo o sofrimento que vivemos no passado poderá se repetir. FREUD chamava esse mecanismo psíquico de "compulsão à repetição", uma tentativa neurótica de reviver constantemente um trauma, até que a pessoa se torna cônscia do processo que havia direcionado principalmente seus afetos.
O psicoterapeuta Flávio Gikovate cita que a solidão é boa, que ficar sozinho não é vergonhoso. Ao contrário, dá dignidade à pessoa. As boas relações afetivas são ótimas, são como ficar sozinho: ninguém exige nada de ninguém e ambos crescem. Todas as pessoas deveriam ficar sozinhas de vez em quando, para estabelecer um diálogo interno e descobrir sua força pessoal. Na solidão, o indivíduo entende que a harmonia e a paz de espírito só podem ser encontradas dentro dele mesmo.
Apesar disso, a solidão pode ser usada a nosso favor ou não, ficar sozinho nos leva a conhecermos a si mesmo, aprendermos a lidar com nossos medos, angustias e nossos defeitos; criar uma estrutura psíquica para poder ser uma boa companhia para nós mesmos. Observamos o quão difícil é aceitar o outro, não obstante se torna mais difícil conviver a aceitar a si mesmo ao ter que conviver e aceitar o outro. A solidão pode ser tanto uma amiga quanto uma inimiga, só depende de nós cativa-la. Destine um preciso instante a fechar os olhos, abrir seu coração e sentir todo o amor que vem de dentro dele, no seu silêncio natural e saudável. Cuide de você. Crie formas para viver e suportar sua realidade. Quando carecer articular – pense -, pois os ignorantes não podem compreender o valor da solidão do seu silêncio.